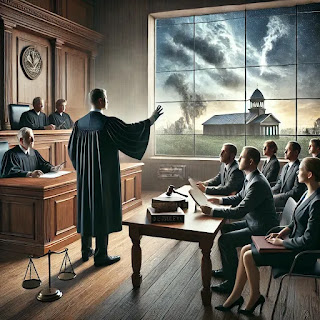Art. 5°(...)
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
O inciso II do artigo 5º da Constituição Federal brasileira é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, prevendo o chamado princípio da legalidade. A redação do inciso é a seguinte:
"II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei."
Esse princípio possui várias implicações na ordem jurídica e regula a relação entre o Estado e os indivíduos, assegurando que as obrigações e proibições impostas aos cidadãos devem estar claramente definidas em lei. Dessa forma, limita-se o poder do Estado e protege-se a liberdade individual. Esse dispositivo é um reflexo direto da ideia de que ninguém pode ser privado de direitos ou compelido a realizar algo que não esteja previamente estabelecido por uma norma legal.
Doutrina
Vários doutrinadores se debruçam sobre o princípio da legalidade, especialmente em sua relação com os direitos fundamentais e as limitações do poder estatal. Vamos abordar algumas posições doutrinárias relevantes sobre o tema.
1. Celso Antônio Bandeira de Mello destaca que o princípio da legalidade é uma garantia fundamental que assegura que todas as normas impostas aos cidadãos devem estar em consonância com a lei, de forma que "ninguém estará obrigado a submeter-se a imposições senão aquelas que foram determinadas pelo Poder Legislativo, que, por sua vez, representa a vontade popular". Ele enfatiza que, ao impor tal limite ao Estado, o princípio da legalidade protege os cidadãos contra arbitrariedades.
2. Alexandre de Moraes afirma que o princípio da legalidade é base para a segurança jurídica e essencial para a construção de um Estado Democrático de Direito. Segundo ele, ao adotar a legalidade, o Estado obriga-se a seguir regras pré-estabelecidas e os cidadãos têm uma previsibilidade de suas ações. Assim, "qualquer ato que vá de encontro à vontade popular expressa em lei é inválido, pois infringe o próprio pacto democrático".
3. José Afonso da Silva aborda o princípio da legalidade como um conceito basilar dos direitos fundamentais, enfatizando que ele assegura a liberdade individual ao impedir que o Estado crie obrigações ou restrinja liberdades sem amparo legal. Ele ainda destaca a diferença entre a legalidade administrativa e a legalidade geral, sendo esta última mais abrangente e aplicável a todas as situações jurídicas, não apenas às atuações do Poder Executivo.
4. Maria Sylvia Zanella Di Pietro diferencia a legalidade formal da legalidade material. A primeira exige que exista uma norma escrita, enquanto a segunda requer que essa norma seja compatível com os valores e direitos fundamentais constitucionais. Para Di Pietro, "a legalidade formal não é suficiente, sendo necessário que as normas respeitem também os valores substantivos da Constituição".
Aplicações e Implicações
O princípio da legalidade exerce uma função fundamental no Direito Penal, uma vez que reforça o aforismo latino nullum crimen, nulla poena sine lege (não há crime sem lei, não há pena sem lei), previsto no art. 1º do Código Penal Brasileiro. Esse princípio é a base da segurança jurídica no Direito Penal, garantindo que somente será considerado crime aquilo que a lei define como tal e que nenhuma punição pode ser imposta sem uma previsão legal específica. Assim, protege-se o cidadão contra interpretações extensivas e arbitrárias do Direito Penal.
No Direito Administrativo, o princípio da legalidade também é crucial, pois estabelece que os atos administrativos devem estar fundamentados em lei. Para o agente público, isso significa que ele só pode fazer o que a lei expressamente autoriza. Esse aspecto da legalidade é uma importante ferramenta de controle dos atos da administração pública, garantindo que o poder estatal não seja exercido de forma abusiva.
Já no Direito Civil, a legalidade restringe a imposição de obrigações que não tenham fundamento em norma expressa. Por exemplo, contratos que impõem cláusulas que não respeitem a legislação em vigor podem ser considerados nulos ou anuláveis. O princípio da legalidade, aqui, assegura a liberdade contratual dos indivíduos, desde que respeitados os limites legais.
Jurisprudência
O Supremo Tribunal Federal (STF) tem diversos julgados que reforçam a importância e a aplicação do princípio da legalidade, principalmente nos casos em que ocorre uma possível extrapolação do poder regulamentar pelo Poder Executivo.
Em um caso emblemático, o STF decidiu que a criação de obrigações para o cidadão ou limitações a direitos fundamentais sem a devida base legal é inconstitucional (RE 704.292). Esse entendimento reafirma que, independentemente da finalidade ou do motivo alegado, a ausência de uma lei que preveja determinada obrigação implica em sua invalidade, pois atenta contra o princípio da legalidade.
Outro exemplo importante é o entendimento da Suprema Corte sobre o princípio da legalidade tributária. No julgamento do RE 344.331, o STF reafirmou que não se pode instituir ou majorar tributos sem uma lei específica que o estabeleça, respeitando o art. 150, I, da CF/88. Nesse sentido, a legalidade tributária é um subprincípio do princípio da legalidade, com o objetivo de proteger o contribuinte de abusos fiscais.
Conclusão
O inciso II do artigo 5º da CF/88 consolida a segurança jurídica e a previsibilidade das ações do Estado em relação aos direitos e deveres dos cidadãos. Ao estabelecer que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei", a Constituição confere uma proteção ampla aos direitos individuais, restringindo o arbítrio estatal e promovendo um sistema jurídico mais seguro e estável.
Esse princípio é essencial para a limitação do poder estatal, funcionando como uma garantia de que o Estado não pode agir fora do que foi estabelecido pelo Poder Legislativo, o que é fundamental em um regime democrático. Ao assegurar que as obrigações e proibições devem estar formalizadas em lei, a Constituição Federal fortalece a cidadania e a confiança nas instituições jurídicas, sustentando o próprio arcabouço do Estado de Direito brasileiro.